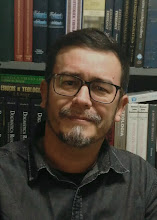As declarações de Cristo
As declarações de CristoNo texto anterior citei as palavras de Cristo com referência à origem do matrimônio no decreto e providência. Com as suas declarações sobre o tema do divórcio examinaremos outras porções da Escritura Sagrada.
No relato de Mateus, outrora citado (Mt 19:3-12), perguntaram a Jesus: “por que Moisés ordenou dar carta de divórcio, e permitir repudiá-la? Ele lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, foi que Moisés lhes permitiu repudiar as vossas mulheres; mas, no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser que seja por motivo de adultério, e se casar com outra, também comete adultério” (Mt 19:7-9). Observe como ele corrigiu a palavra “ordenou”, e a substituiu por “permitiu”. O relato de Marcos (10:2-12) é o mesmo em essência, mas ele acrescenta no final: “e, se a mulher repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério” (Mc 10:12).
Em ensino semelhante, mas em contexto diferente, se encontra em Lc 16:18 “todo aquele que repudiar a sua mulher, e se casar com outra, comete adultério; e, o que se casar com a repudiada do marido, também adultera.” No Sermão do Monte (Mt 5:32) há o mesmo ensino: “mas, eu vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz com que ela adultere; e o que se casar com a repudiada, também comete adultério.”
Princípios de interpretaçãoÉ um princípio de interpretação bíblica que ao expor qualquer doutrina é necessário considerar todas as porções da Escritura relacionadas com o mesmo tema. Em geral, nenhuma passagem isolada da Escritura oferece uma doutrina completa com todas as suas qualificações e implicações. Isto é especialmente verdadeiro quanto à doutrina do divórcio. As palavras de Cristo em Mc 10:11 e 12 e em Lc 16:18 não incluem a exceção que permite o divórcio por razão do adultério ainda que esta exceção esteja declarada em Mt 5:32 e em Mt 19:19. Além do mais, as palavras de Cristo não mencionadas nos evangelhos sinópticos não incluem a exceção sobre a base do abandono irremediável, mas isto está explícito em 1 Co 7:15.
Antecedentes: a lei mosaica
Está claro que Cristo recebeu por certo não somente a lei mosaica conforme aparece em Dt 24:1-4, mas também os abusos da lei mosaica prevalecentes em seu tempo. Assim, a lei mosaica era uma regulamentação humanitária que impedia o divórcio fácil, por razões fúteis e, que requeria pelo menos um documento legal para proteção da pessoa divorciada. Nada existe na lei mosaica que seja contrário ao ensino de Cristo. A lei teve todo o alcance que era possível na regulamentação de um mal que prevalecia no tempo de Moisés.
É um fato bem conhecido que a lei do Antigo Testamento inclui a lei civil, a lei criminal e diferentes tipos da lei secular, bem como a lei religiosa. O estado do Antigo Testamento era uma teocracia e, as leis seculares e religiosas não eram completamente separadas. Em nosso estudo do Antigo Testamento com a nossa doutrina da separação da Igreja do Estado, é necessário que tratemos de entender quais leis eram civis ou seculares, e quais eram religiosas.[1] A minha sugestão é que a lei mosaica do divórcio deve ser considerada como uma norma mínima da lei civil. Cristo a descreveu como uma regra prática para o povo pecaminoso e duro de coração. A Bíblia tem muitas regras e princípios para a sociedade secular, e é necessária a regra de que, se há de existir divórcio entre as pessoas do mundo, pelo menos que seja regulamentado pela lei para a proteção das pessoas envolvidas.
Em minha opinião é um erro tratar de fazer o mandamento de Cristo uma lei civil obrigatória para todo o mundo, tanto para cristãos como para não cristãos. Certamente, o mandamento de Cristo é obrigatório para todos os cristãos e deve ser exigido na disciplina da Igreja Visível. A pergunta que trago à consideração não é se o mandamento de Cristo é uma norma correta para toda a humanidade. A pergunta é se esta norma deve ser um assunto da lei secular e exigida pela autoridade civil, ou não. Sugiro que a lei mosaica é o mínimo para os tribunais seculares, e que em cada cultura particular as leis seculares deveriam fazer o possível para fazer permanente o matrimônio e salvaguardar a estabilidade da família. Por outro lado, a Igreja tem a obrigação de manter as normas que Cristo deu aos seus discípulos.
O direito das mulheres
As palavras de Cristo em Mc 10:12 nos dão uma das poucas referências nas Escrituras que ensinam o direito da mulher de se divorciar de seu marido. Alford em seu comentário sobre esta passagem indica que a mulher teria tal direito sob a lei romana, mas que este direito não era reconhecido entre os hebreus. Em 1 Co 7:13 Paulo reconhece que em Corinto a mulher às vezes tinha poder de divorciar-se de seu marido. Também creio que este é o contexto de 1 Co 7:11. Em nossa atual civilização[2] uma mulher tem direitos iguais neste assunto, e o relato de Marcos destas palavras de Cristo somado ao ensino de Paulo nos oferecem suficiente base para colocar o homem e a mulher em tais casos, no mesmo nível enquanto disciplina da Igreja.
As palavras de Cristo sobre a pessoa divorciada
Pode-se presumir que a proibição de Cristo de se contrair um segundo casamento para a mulher que se divorciou de seu marido (Mc 10:12) e, a semelhante proibição de Paulo (1 Co 7:11) com referência a uma mulher separada de seu esposo tem ambas a ver com casos em que a causa do divórcio, ou separação não foi o adultério, ou o abandono irremediável. Em tal caso a mulher deve reconhecer o seu pecado ao causar a separação e, se é possível, deve retornar a sua relação matrimonial original. Ela não pode contrair um segundo casamento a não ser que o seu marido tenha rompido o matrimônio por outra união.
A regra em Mt 5:32 e em Lc 16:18 que ensina que um homem que se casa com uma mulher divorciada deve ser considerado como adúltero, parece ser muito raro à luz da estipulação mosaica de que a mulher divorciada que “saiu da sua casa [de seu primeiro esposo], poderá ir e se casar com outro homem” (Dt 24:2). Não é possível pensar que Cristo contradiria a lei mosaica ou que instruiria em contraste sem oferecer algum comentário quanto a isto. Recordando o princípio de que não temos o ensino bíblico sobre qualquer assunto até que examinemos todas as passagens pertinentes, devemos observar que o contexto mosaico disse que se o segundo marido se divorcia da mulher envolvida, o seu primeiro marido não tem liberdade de recebê-la de volta como esposa. O propósito óbvio desta lei é de proibir um promíscuo intercâmbio de esposas. Sendo que Cristo se referia diretamente à lei mosaica pode-se supor que as suas observações sobre o casamento de uma mulher divorciada sejam tomadas como uma alusão a Dt 24:3-4, e não como uma contradição de Dt 24:2. Isto seria perfeitamente claro nas circunstâncias em que ocorreram os diálogos de Cristo sobre o tema.
O ensino de Paulo sobre o divórcio
É óbvio que o ensino de Cristo acerca da preservação do matrimônio e sobre o mal do divórcio são de importância central. É igualmente óbvio que estas palavras não contenham explicitamente todos os fatores no ensino bíblico sobre este tema, mas que aceitam por estabelecidos vários elementos que aparecem em outras passagens da Escritura. Encontra-se em 1 Co 7 um importante texto acerca deste tema. Após declarar que é melhor casar do que viver abrasado e solteiro (vs. 9) Paulo continua dizendo que “mas, aos que estão unidos pelo matrimônio, ordeno, não eu, mas o Senhor [quando Paulo usa palavras como estas, quer dizer que está citando diretamente algo que Cristo havia declarado]: que a mulher não se separe do marido; e se separar [supondo ser por iniciativa própria], que permaneça sem casar novamente, ou reconcilie-se com o seu marido; e que o marido não abandone a sua mulher.”
Em outro lugar ele diz “e, eu declaro aos demais, não o Senhor [ou seja, não é uma citação direta]: se algum irmão tem mulher que seja incrédula, e ela consente em viver com ele, que não a abandone. E, se uma mulher tem marido que não seja crente, e ele consente em viver com ela, não a abandone” (vs. 10-13).
Aqui, como em Mc 10:12, temos um reflexo da lei romana que deu a mulher o direito sob certas circunstâncias de divorciar-se de seu esposo. Isto também nos oferece base para considerar que o homem e a mulher têm direitos iguais em tais casos.
O pacto da famíliaO ensino claro de que não se deve romper um matrimônio por causa de uma diferença de fé religiosa está relacionada com uma das enfáticas declarações nas Escrituras sobre o tema da aliança de Deus com a família: “o marido incrédulo é santificado no convívio da mulher, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido; pois, de outra maneira os seus filhos seriam impuros, todavia, eles são santos” (vs. 14). A santidade aqui atribuída é uma santidade de uma relação pactual. Embora Paulo não mencione a palavra aliança, está claro que tem em mente os princípios implícitos em Gn 17:7: “estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência após de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus, e o de tua descendência após de ti.” O fato de que Deus não se limita a ser somente o nosso Deus, mas o Deus de nossos filhos, o Deus das nossas famílias é ensinado enfaticamente nas Escrituras, e deve ser considerado como uma fonte de consolação para os pais cristãos em todas as idades e, sob todas as circunstâncias. Os pais piedosos podem com toda a confiança reclamar a promessa para os seus filhos: “serei o Deus deles” (Gn 17:8). É sobre este fundamento que Paulo declara que se um dos pais é um crente, os outros membros da família são santificados por relação da aliança com Deus.
Estas palavras não declaram que os indivíduos “santificados” sejam todos regenerados. Paulo disse algo mais adiante no mesmo contexto: “como saberás, ó mulher, se salvarás a teu marido? Ou, como poderás saber, ó marido, se salvarás a tua esposa?” (vs. 16). O crente deve continuar constante na fé e em oração esforçando-se pela salvação do membro ainda não convertido de sua família. Há mais duas passagens no Novo Testamento onde se declara que os incrédulos são santificados por que estão numa relação santa. Em Rm 11:16 diz que os judeus incrédulos, a quem se compara com os ramos cortados da oliveira cultivada, são “santos”, e em Hb 10:29 lemos: “quanto maior o castigo pensais que mereceria o que pisoteou ao Filho de Deus, e teve por imundo o sangue da aliança no qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça?”
Deus é o Deus dos que, fazendo nascer numa família da aliança, desprezam-no. Os que desta santa relação pactual rejeitam a graça de Deus, merecem um castigo muito mais severo. Vemos algumas referências que a santa relação na aliança familiar é um assunto sagrado, um assunto de que não se deve fazer descaso. Esta aliança é a base espiritual para a permanência do matrimônio cristão.
O abandonoRetornando ao tema divórcio, após analisar a declaração de 1 Co 7:14 quanto a aliança familiar Paulo continua: “se o incrédulo quiser se separar, que se separe; pois, não está o irmão ou a irmã sujeito à servidão em tal caso, pois Deus tem nos chamado à paz” (vs. 15).
As palavras “não está o irmão, ou a irmã sujeito a servidão em tal caso” podem se referir somente a um vínculo matrimonial. Resulta claro o ensino de que o abandono destrói o vínculo matrimonial. Em Rm 7:2 o apóstolo Paulo descreve a pessoa casada como “livre” do vínculo conjugal quando morre o marido ou a esposa; e, diz explicitamente que é “livre para casar-se com outro homem”. Este é o único significado que se encaixa com 1 Co 7:15.
Assim, supõe-se que não contempla aqui nenhum abandono passageiro. A Confissão de Fé de Westminster resume a lei bíblica do divórcio nestas palavras: “nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela Igreja nem pelo magistrado civil” (CFW XXIV.6).
Um cristão abandonado por outro cristãoO prof. John Murray[3] faz uma distinção clara entre abandono de um crente por um incrédulo, como é o caso de 1 Co 7:15, e o abandono (ou o divórcio sobre uma base não bíblica) de um crente por alguém que professa ser cristão. Mantém, creio que corretamente, o que a Confissão de Fé de Westminster tem razão em interpretar 1 Co 7:15 como uma permissão para que o crente, quando abandonado por um incrédulo, de casar-se de novo, como se estivesse morta a pessoa culpada de tal abandono. Mas, se o entendi corretamente, ele não crê que um cristão divorciado ou abandonado por um cristão professo por razões não bíblicas esteja livre para casar novamente. Se um cristão recebe o divórcio de alguém que professa ser cristão, e esta pessoa se une após segundas núpcias, então biblicamente a pessoa causadora do divórcio comete adultério, e a pessoa inocente está livre para casar pela segunda vez; mas, não está livre de fazê-lo se a pessoa que professa ser cristã e que causou o divórcio, ou o abandono, não se casa de novo, ou não é culpada de adultério.
Acredita-se que esta posição é sustentada em 1 Co 7:11 e que desaprova o divórcio ou o abandono e acrescenta: “se alguém se separar, permaneça sem se casar, ou reconcilie-se com o seu marido”. Todavia, sugeri que as palavras de 1 Co 7:11 não se referem à pessoa abandonada, mas a uma pessoa que abandonou a relação matrimonial sem razão. Por exemplo, se algum cristão pensar que uma diferença de religião justifique a deserção da relação matrimonial e assim o fizer. Como eu entendo, a resposta de Paulo requer que se diga que isto é um equívoco, e que a pessoa que abandonou deve se reconciliar ao matrimônio existente se ainda for possível. Em todo caso, não há liberdade de casar em segundas núpcias por carecer de base bíblica a causa da separação. Em minha opinião, não há base nas Escrituras que proíba um cristão que foi abandonado ou divorciado por razões não bíblicas por um marido ou uma esposa que professe ser cristã, de contrair segundas núpcias sempre que a relação não possa ser remediada; tal como um cristão abandonado ou divorciado por um incrédulo tem liberdade de unir-se em segundas núpcias conforme 1 Co 7:15.
Mas, sucede que a idéia de divórcio ou abandono irremediável por um cristão é em si mesma absurda agora que temos as Escrituras do Novo Testamento. Bem que poderíamos entender que um crente em Corinto pudesse por ignorância ter cometido o pecado de abandono ou de divórcio por razões não bíblicas. Mas, hoje temos palavras claras e explícitas de Cristo contra o divórcio e, as palavras claras e explícitas de Paulo contra o abandono do matrimônio por parte de um cristão, pareceria que os tribunais eclesiásticos devessem excluir um indivíduo que seja culpado de abandono ou de causar um divórcio por razões que não sejam bíblicas. Tal pessoa deve ser julgada como sendo um incrédulo
prima facie.
Divórcio por causa de homossexualidadeÉ minha opinião que a homossexualidade justifica o divórcio para um cristão. O meu argumento é muito simples: se Cristo permitiu o divórcio baseado no adultério e, o apóstolo Paulo considerou a homossexualidade como pior do que o adultério, por que é ainda “...contra a natureza” (Rm 1:26-27), com maior motivo o divórcio se justifica no caso de homossexualidade.
É permitido que a pessoa culpada de divórcio se case pela segunda vez?
O professor John Murray[4] acredita, e creio que corretamente, que a Escritura não proíbe que a pessoa culpada contraia segundas núpcias, desde que tenha se divorciado por razões bíblicas. Todavia, considera que o silêncio das Escrituras sobre este ponto não justifica que a igreja declare que se aprove tal matrimônio. A igreja deve guardar silêncio onde a Escritura guarda silêncio.
Mas se Cristo não contradiz Dt 24:2, eu diria que a Escritura não guarda silêncio. É fato que Cristo proíbe que se case com uma mulher divorciada (Mt 5:32; Lc 16:18). Sugeri acima que a lei mosaica de Dt 24:1-4 se subtende claramente como o contexto destas palavras de Cristo e, sendo que estas observações são fragmentárias, no sentido de que não temos todo o conteúdo do seu ensino em nenhuma destas passagens, assim estas palavras de Cristo que proíbem o casamento de segundas núpcias de uma mulher divorciada devem ser tomadas como uma aprovação de Dt 24:3-4, e não como uma contradição de Dt 24:2. Esta interpretação seria entendida naturalmente pelos seus contemporâneos que ouviram toda a discussão.
Devo acrescentar que, como coisa natural, alguém que professa ser cristão divorciado como culpado por razões bíblicas tem que ser disciplinado, ou por exclusão, ou pelo menos afastamento da comunhão da igreja; e, que tal pessoa, seja casada ou não, não pode ser recebida outra vez na comunhão da igreja a menos que demonstre clara evidência de um arrependimento genuíno e evidência de uma vida santa. Sei de grupos de cristãos que negaram o direito de casarem pela segunda vez com uma pessoa anteriormente divorciada como culpada por razões bíblicas e depois de convertida; e, que ao mesmo tempo reconheceram o direito de um indivíduo que era notoriamente culpado de fornicação, ainda que não casado, após a sua conversão, de casar-se. Tal ponto de vista em minha opinião não se justifica nas Escrituras e, aos olhos do mundo parece ser uma recompensa para a imoralidade de pessoas não casadas. No caso de um incrédulo, anteriormente divorciado por razões bíblicas, seja casado em segundas núpcias, ou não, a igreja como coisa natural teria que assegurar que foi verdadeiramente convertido e viveu uma vida sem mancha antes de admiti-lo na comunhão da igreja.
A atitude do coraçãoAntes de concluir a discussão do ensino bíblico sobre o divórcio, devo enfatizar que as forças mais perigosas que ameaçam destruir a integridade da vida familiar estão dentro do coração dos indivíduos. A lei moral defende a família não somente pelo sétimo mandamento que proíbe o adultério, mas também pelo décimo mandamento que proíbe os desejos ilícitos. Estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo pronunciadas no Sermão do Monte são de suma importância: “ouvistes o que vos foi dito: não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Portanto, se o teu olho direito te faz tropeçar, corta-o e arranca-o de ti; pois é melhor que perca um de seus membros e, não seja todo o teu corpo lançado no inferno” (Mt 5:27-29).
Para os pastores e os que tratam com vidas e lares destruídos, é uma observação comum que o princípio das ações pecaminosas está no alento deliberado das imaginações luxuriosas. Não somente os inclinados a diversões que estimulam os desejos ilícitos, mas também os que também alimentam as suas mentes com literatura sensual, se conduzem e ainda influenciam a outros para o desastroso pecado. O cristão cujo coração está cheio de amor ao seu Senhor adotará como regra da sua vida o não abrigar os impulsos sensuais que não crê cabem honrosamente dentro dos limites do puro amor monógamo. O lar cristão pode se manter em sua integridade se os cristãos preservarem esta regra em seu coração, em suas volições e, em suas imaginações. Há alguns anos ouvi um homem muito consagrado dar esta regra para o auto-exame no crescimento espiritual: “aonde dirige os teus pensamentos habitualmente num período de ociosidade?”
“Cada um é tentado quando de sua própria cobiça o atraí e o seduz. Então a cobiça após ter concebido, dá a luz ao pecado; e, o pecado uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados” (Tg 1:14-16). É impossível que os descendentes da queda mantenham perfeita pureza de pensamentos, palavra e atos; mas, é possível ocupar as nossas mentes com as coisas do Senhor, a fim de não cair numa vida de pecado.
Notas:[1] Também é necessário que separemos em nossas mentes aquelas leis que a Igreja Visível pode exigir no processo de disciplina e, quais não devem ser sujeitas às disciplinas de uma maneira prática (por exemplo, os pecados das atitudes mentais).
[2] O autor escreveu este texto em 1962 (nota do tradutor).
[3] John Murray,
Divorce (Comissão de Educação Cristã da Orthodox Presbyterian Church, 1953), pág. 69ss.
[4] John Murray,
Divorce, págs. 100ss.
Extraído de James O. Buswell Jr.,
A Systematic Theology of the Christian Religion, vol. 1, parte II, págs. 387-397
Traduzido por Rev. Ewerton B. Tokashiki
 Alister McGrath é um autor que tem se popularizado entre os leitores brasileiros. Alguns dos seus livros estão publicados em português por editoras de diferentes orientações teológicas. Isto demonstra a sua capacidade de discutir assuntos de interesses comuns aos vários segmentos do cristianismo. Entretanto, a sua identidade anglicana/evangélica é declarada com firme convicção. Apesar de ter lançado uma excelente biografia sobre João Calvino, McGrath é incoerentemente um arminiano.
Alister McGrath é um autor que tem se popularizado entre os leitores brasileiros. Alguns dos seus livros estão publicados em português por editoras de diferentes orientações teológicas. Isto demonstra a sua capacidade de discutir assuntos de interesses comuns aos vários segmentos do cristianismo. Entretanto, a sua identidade anglicana/evangélica é declarada com firme convicção. Apesar de ter lançado uma excelente biografia sobre João Calvino, McGrath é incoerentemente um arminiano.